A Peça de Teatro, “ EFÉMERA GLÓRIA D’EL REY SEM TRONO “ de
autoria de António Afonso, é uma ficção dramática, que assentando em factos
históricos verídicos, se desenvolve a partir da pretensão do Duque de Lencastre,
John of Gaunt, ao trono de Castela e Leão, em que como aliado de Inglaterra por
tratados antes celebrados, está envolvido D. João I de Portugal.
Intitulando-se já como Rei de Castela
e Leão, como consta do texto do próprio Tratado
de Babe, o nobre inglês abdicava de qualquer direito que no futuro viesse a
ter sobre a Coroa de Portugal.
Sem efeitos políticos dignos de nota,
mas por fazerem parte da história local, não poderão os factos ser desvalorizados
ou ignorados.
Através do seu processo criativo e
baseado em factos reais, a Ficção transporta-nos no Tempo e torna-se fisicamente
presente, como ferramenta da nossa memória colectiva.
Sendo ainda a Ficção, um género
literário complementar ao nosso imaginário, é a Arte Cénica um veículo da mesma
por excelência, tornando-a em nosso entender, culturalmente legítima.
PREFÁCIO
Foi com alguma
surpresa, que recebi o convite do meu ilustre amigo António Afonso para
escrever o prefácio da sua peça de teatro: Efémera Glória d’El Rey Sem Trono
- A História Atribulada do Tratado de Babe. Surpresa, porque nunca tinha
escrito um prefácio para uma peça de teatro mas, alguma vez havia de ser a
primeira... Depois de ler o supracitado texto da peça, fiquei muito mais à
vontade, na medida em que o tema era inteiramente ligado à minha formação
académica, ou seja, à História. Por isso, foi com toda a alegria e algum
atrevimento, que aceitei tão honroso convite.
Tenho uma grande admiração e estima pelo meu grande amigo
António Afonso, desde há muitos anos, por isso, não me é fácil falar dele. Como
pessoa, para além de uma vasta cultura e erudição, tem aquela maneira de ser
tão transmontana, que nos põe completamente à vontade, como se nos
conhecesse-mos desde sempre. Espírito aberto, alma cristalina, coração sem
reservas.
Como homem de Arte, este Bragançano é um criador
multifacetado, fecundo, cria um pouco de tudo, à maneira dos intelectuais
renascentistas: escreve poesia, é autor de várias peças de teatro e de prosa,
pintor, participou (e participa), em incontáveis exposições (quer individuais,
quer colectivas), pronunciou inúmeras conferências e palestras, enfim um
artista completo, com um curriculum vastíssimo, que preenche várias folhas e
que aqui referi muito sucintamente.
A peça Efémera Glória d’El Rey Sem Trono - A História
Atribulada do Tratado de Babe, para além de estar muito bem elaborada,
escrita numa linguagem acessível quer aos intelectuais quer ao público em geral
vale também pela valorização da História local, normalmente tão esquecida. Há
muitos anos que vimos defendendo que, as nossas escolas deviam ter uma disciplina
de História Local para que os nossos alunos conhecessem a História da sua terra
e das suas gentes.
O texto fala-nos no célebre “Tratado de Babe”, do qual
falaremos mais à frente. Devo confessar que visitei pela primeira vez Babe,
aquando do Congresso “A Festa Popular em Trás-os-Montes”, decorrido entre 3 e 5
de Novembro de 1993, em Bragança e Miranda do Douro, em companhia sabedora do
saudoso Senhor Padre Belarmino Afonso. Foi uma lição de História, que jamais
esquecerei.
Mas voltemos ao contexto em que se desenvolve a supra
referida peça. Decorria a guerra pela independência de Portugal, face a
Castela. Eram tempos difíceis de guerra, com muitas incertezas sobre o futuro,
sobretudo para Portugal.
Eleito nas Cortes de Coimbra,
Regedor e Defensor do Reino, o Mestre de Aviz, era doravante Rei de Portugal,
ou seja, era D. João I de Portugal. Haviam de se encontrar estratégias para
defender e consolidar a nossa independência face a Castela. Assim, nesse
sentido, em 1383, consegue-se um tratado de aliança entre Portugal e a
Inglaterra e em 9 de Maio, pelo Tratado de Windsor novo tratado. Este Tratado
determinava que entre estes dois reinos haveria «uma liga, amizade e
confederação real e perpétua, de maneira que um seria obrigado a prestar
auxílio ao outro contra todos os que tentassem destruir o Estado do outro».
Este tratado servia perfeitamente quer os nossos objectivos quer os da
Inglaterra. Portugal contava assim com um poderoso aliado contra Castela. Por
sua vez, também servia perfeitamente os interesses ingleses na medida em que
era importante para a pretensão do Duque de Lencastre, ao trono de Castela. É
que o Duque de Lencastre, D. João de Gaunt, quarto filho do Rei Eduardo III de
Inglaterra, após ter ficado viúvo de Blanche de Lancastrer (de quem teve D.
Filipa de Lencastre, que nasceu em Inglaterra em 1359), casou em 1371, em
segundas núpcias, com a Princesa Constança, filha do falecido Rei Pedro I de
Castela, O Cruel, envolvendo-se assim, na política castelhana ao declarar-se
pretendente da Coroa de Castela, rivalizando com Henrique de Trastâmara, na
disputa do mesmo propósito. Muito inteligentemente, D. João I de Portugal,
apercebeu-se que esta era a grande oportunidade para ter um aliado contra
Castela, uma vez que iria não só dividir as tropas do inimigo, como também,
viriam para a Península Ibérica muitos mais militares, gente que apoiava o
Duque de Lencastre. Por isso enviou um emissário a Inglaterra, oferecendo auxílio ao Duque de
Lancaster. O Duque inglês aceita a oferta e desembarca o seu exército na
Corunha. O encontro entre os dois aliados dá-se em Ponte de Mouro, perto de
Melgaço, onde subscrevem um novo Tratado de Aliança, contra o Rei de Castela.
Como era costume na época, com a finalidade de reforçar essa aliança, ficou
combinado o casamento de D. João I de Portugal, com D. Filipa de Lencastre,
filha do Duque inglês.
Entretanto o Duque de Lencastre e as suas tropas seguem
para Bragança, onde fica hospedado no Mosteiro de Castro de Avelãs. Após se ter
solicitado a Roma a necessária dispensa do mestrado de Avis, veio D. Filipa,
alojando-se no Porto, no Paço do Bispo. Na manhã do dia 2 de Fevereiro de 1387,
na cidade do Porto, na Igreja de S. Francisco, realiza-se o referido casamento.
D. João I de Portugal demorou-se bastante no Porto e o seu sogro, farto de
esperar, parte com as suas tropas para Babe, povoação fronteiriça, perto da
cidade de Bragança, onde os dois exércitos se iriam reunir. Aqui, em 26 de
Março de 1387, era assinado um novo tratado, o Tratado de Babe. Por este
Tratado, o Duque de Lancaster desistia de qualquer direito, que no futuro
viesse a ter, sobre a coroa de Portugal.
Após a assinatura deste Tratado, os
dois exércitos aliados, atravessaram o Rio Maçãs e rumaram a Alcanices.
Entretanto, D. João de
Gaunt, chega a acordo com o rei de Castela e, para selar este acordo, casa outra sua filha, com o Rei de Castela, tendo o
Duque de Lencastre regressado a Inglaterra. No entanto, a guerra entre Portugal
e Castela, estava longe de ter acabado. Morto D. João I de Castela, o
seu sucessor, D. Henrique III, reavivando a guerra, invadiria Trás-os-Montes,
em 1397, não respeitando as pazes anteriormente assentes, entre os anteriores
monarcas, dos dois reinos.
Conquista Bragança, Vinhais e
Mogadouro, obrigando D. João I de Portugal, a entrar pela Galiza, para libertar estas terras
transmontanas, em 4 de Maio de 1398.
A paz definitiva entre estes dois reinos, apenas seria
alcançada em 1411.
Dentro do contexto de uma guerra tão prolongada, quero
salientar alguns factos, relacionados com estas terras transmontanas. Assim em
16 de Maio de 1386, D. João I de Portugal, doou um Foral ao Azinhoso (renovado
em 13 de Fevereiro de 1520 por D. Manuel I Rei de Portugal).
Segundo a História, D. Nuno Álvares Pereira, o
Condestável de D. João I de Portugal, terá rezado junto ao altar de Nossa
Senhora da Natividade, no ano de 1386, na centenária Igreja de Santa Maria do
Azinhoso, pedindo protecção à Virgem, contra os Castelhanos. Também há uma
grande polémica sobre o local onde se terá realizado o célebre Alardo da
Vilariça (é que há duas povoações possíveis de ter ocorrido porque ambas se
chamam Vilariça, uma no concelho de Torre de Moncorvo, outra, muito perto do
Azinhoso, concelho de Mogadouro).
Para concluir, devo chamar a atenção para uma reprodução
“fac-símile”, do Tratado de Babe, incluído neste livro. Como o pergaminho
original, guardado na Torre do Tombo está em muito mau estado, a Associação
Bragança Histórica, de que o António Afonso é membro fundador, tomou a notável
iniciativa de o mandar restaurar, parabéns!
Só me resta desejar ao leitor uma boa leitura desta
notável peça de teatro.
António
Pimenta de Castro
















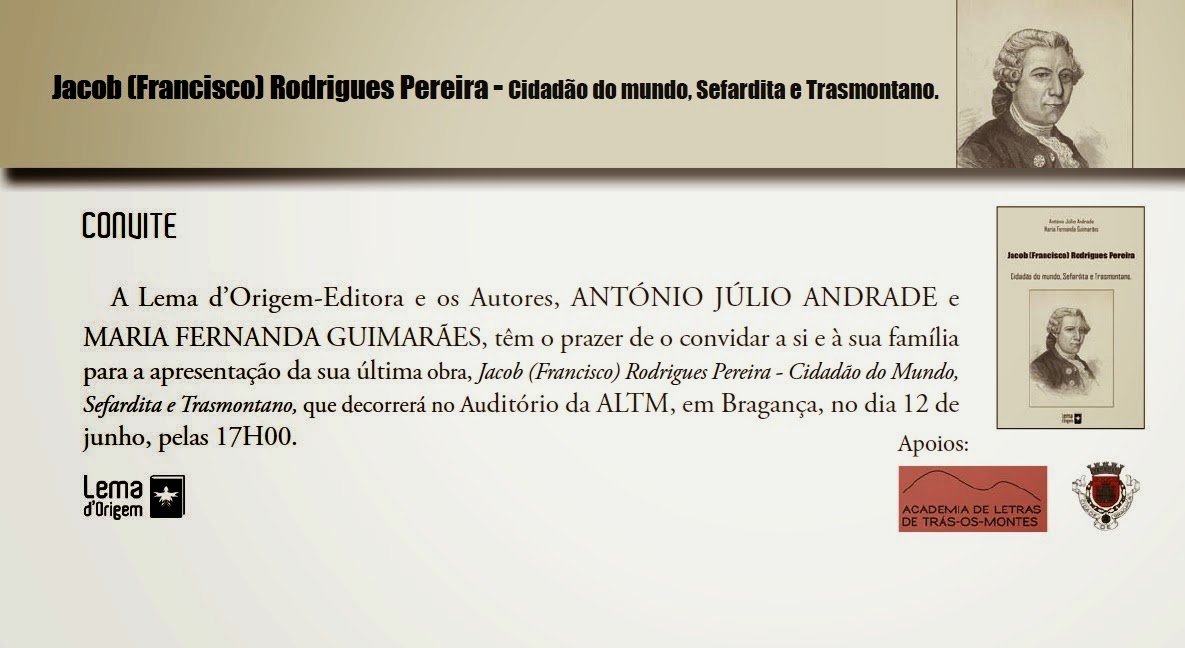




.jpg)

